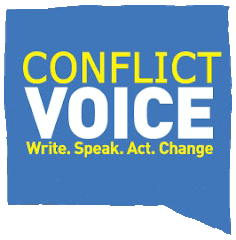sexta-feira, 31 de outubro de 2008
Países mais pobres precisam aumentar força comercial, diz OMC
Reuters
Por Jonathan Lynn
GENEBRA (Reuters) - Os países mais pobres do mundo precisam ganhar competitividade na produção e exportação de mercadorias a fim de serem beneficiados no acesso preferencial oferecido pelas nações ricas, disse um relatório interno da Organização Mundial do Comércio (OMC).
No entanto, muitos dos Países Menos Desenvolvidos (LDCs, na sigla em inglês) deparam-se com oportunidades limitadas de exportação não somente porque enfrentam dificuldades para produzir as mercadorias de forma suficientemente eficaz, mas também porque encontram dificuldades para lidar com regras e padrões complexos exigidos por muitos países importadores.
Em 2006, 79 por cento das exportações dos LDCs entraram nos países desenvolvidos sem pagar impostos, disse o estudo da OMC, datado de 14 de outubro e divulgado no site da entidade.
"Apesar de as questões de acesso ao mercado estarem sendo abordadas nas negociações da OMC, os LDCs bem como a comunidade internacional deveriam continuar esforçando-se para aumentar a capacidade dos LDCs de produzir mais mercadorias comerciáveis com preços competitivos", afirmou o documento.
Nem todos os produtos dos LDCs são isentos de impostos de importação. Por exemplo, certos produtos têxteis e roupas de alguns dos países mais pobres da Ásia pagam impostos altos nos
EUA.
Sendo assim, apenas 70 por cento das mercadorias não-agrícolas dos LDCs entram nos mercados desenvolvidos sem pagar impostos. Quanto aos produtos agropecuários e minerais, essa cifra é de 90 a 100 por cento, disse o estudo.
A análise observou que a exportação dos produtos e serviços dos LDCs aumentou 19,6 por cento em 2007, um crescimento menor que a média de 29 por cento registrada nos três anos anteriores. Mas aumentou mais do que o comércio mundial pelo sétimo ano consecutivo.
O faturamento obtido com as exportações pelos LDCs triplicou entre 2000 e 2007, de 42 bilhões de dólares para 138 bilhões de dólares.
Uma fonte fundamental desse crescimento foi o aumento, a partir de 2003, dos preços de combustíveis e produtos minerais, que hoje respondem por 58 por cento das exportações dos LDCs.
Como resultado, os LDCs conseguiram em 2006 reverter seu histórico déficit comercial e mantiveram o superávit na balança em 2007.
O faturamento com os serviços também cresceu rapidamente, tendo se elevado 21 por cento em 2007, afirmou a OMC.
Porém, não obstante os resultados encorajadores na exportação de mercadorias e serviços, os LDCs continuam a ser um participante irrisório do comércio mundial, respondendo por apenas 0,8 por cento das importações e exportações globais.
Os combustíveis e os minerais aumentaram sua participação no volume total de exportações dos LDCs, chegando a 60 por cento em 2006. Já as roupas e os alimentos somados viram sua participação cair para 22 por cento.
Em 2006, os EUA superaram a União Européia (UE) para se transformarem no maior mercado das exportações dos LDCs, ao passo que a fatia das exportações encaminhadas aos países em desenvolvimento aumentou 45 por cento naquele ano, incluindo 19 por cento para a China, agora o terceiro maior destino.
Os principais tipos de produtos comprados pelos países desenvolvidos são tecidos e roupas. Já os países em desenvolvimento compram minerais, combustíveis, madeira, algodão, cobre, vegetais e sementes usadas na fabricação de óleo.
A Organização das Nações Unidas (ONU) inclui cerca de 50 países no grupos dos LDCs, com base em um critério que combina baixa renda (o Produto Interno Bruto per capita de 750 dólares inclui o país na lista; um de 900 dólares, tira-o dela), avaliação dos serviços públicos (como saúde e outros indicadores) e vulnerabilidade econômica.
Copyright © 2008 Reuters Limited. Todos os direitos reservados. Republicação ou redistribuição do conteúdo produzido pela Reuters é expressamente proibido sem autorização prévia por escrito. A Reuters não se responsabiliza por nenhum erro de conteúdo ou atraso de sua distribuição, ou qualquer outra ação decorrente desta publicação.
var pwa_pagination_number_pages = 1;
Embaixador na OMC diz que contencioso contra EUA é viável
Ação contra tarifas de importação cobradas pelos Estados Unidos para o etanol cabe ao setor sucroalcooleiro
Eduardo Magossi, da Agência Estado
Componentes.montarControleTexto("ctrl_texto")
SÃO PAULO - O governo brasileiro está preparado para entrar com um contencioso na Organização Mundial de Comércio contra as tarifas de importação cobradas pelos Estados Unidos, de acordo com o embaixador Roberto Azevedo, representante permanente do Brasil junto à OMC. "O processo é viável e legítimo. Porém, a decisão de abrir um contencioso não cabe ao governo brasileiro, mas ao setor sucroalcooleiro", disse.
O setor sucroalcooleiro do Brasil ainda analisa a possibilidade de iniciar um contencioso na OMC contra a tarifa de importação de etanol cobrada pelos Estados Unidos, de US$ 0,54 por galão.
Segundo Azevedo, o Brasil tem chances de ganhar a disputa, mas isto não significa que os Estados Unidos não possam usar outros mecanismos para continuar a impedir a importação direta do produto brasileiro. O embaixador acha difícil, contudo, que durante as negociações da rodada Doha se consiga uma redução total do imposto norte-americano. "Talvez os Estados Unidos aceitem uma redução na tarifa porque, se houver uma redução total do imposto, os EUA terão que criar cotas de importação para que volumes expressivos de etanol não sejam importados", explica.
Ele acredita, entretanto, que dificilmente haverá criação de cotas de importação de álcool nos Estados Unidos e União Européia nestes momentos. Segundo ele, existem complicadores para se criar essas cotas porque, pelas regras atuais, estas cotas seriam criadas tendo como base o consumo médio destes países em um período de tempo. Azevedo ressalta que, como o mercado de etanol está crescendo e tende a se elevar nos próximos anos, não é viável a criação de cotas baseadas em consumo passado.
Sobre a rodada Doha, Azevedo disse que já é o momento dos participantes pararem de negociar compensações e flexibilidades de lobbys específicos e partir para uma amarração do que está na mesa. "Existe muita coisa para ser negociada. É hora de parar de adoçar o pacote e de negociar o que existe", disse.
O presidente da Unica, Marcos Jank, disse que o contencioso é apenas uma alternativa para se conseguir a abertura do mercado norte-americano de etanol mas que não está descartado a volta da utilização de negociações diretas entre Brasil e Estados Unidos.
Azevedo disse também que não vê com otimismo a negociação de questões ambientais na OMC, principalmente em relação à obtenção de benefícios de etanol de cana. Segundo ele, as discussões neste fórum seguem muito protecionistas e existe uma dificuldade muito grande em desmistificar afirmações simples, como as diferenças entre etanol de milho e de cana. "Eles colocam tudo no mesmo saco ao se referir por exemplo na pressão dos preços dos alimentos provocados pelo etanol de milho".
CAMBODIA: Concern over UN human rights role
| |||||||
| Themes: (IRIN) Aid Policy, (IRIN) Human Rights | |||||||
| [ENDS] | |||||||
| Report can be found online at: http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=81201 [This report does not necessarily reflect the views of the United Nations] | |||||||
O ataque a Síria marcou o fim do Direito Internacional?
Eles já a aplicaram no Paquistão, e essa semana a Síria foi o alvo. Será o Irã o próximo?
Vejamos o Paquistão primeiro. Apesar de um aliado em potencial, Paquistão foi o alvo de pelo menos dezenove ataques aéreos por aeronaves não tripuladas da CIA, matando Paquistaneses e alguns afegãos em áreas tribais controladas por forças pró-Talibã. O New York Times listou, e mapeou, todos esses 19 ataques na fronteira Afegã desde Agosto. O Times diz que, dentro do governo, o comando das forças especiais Norte-Americanas e outros ramos estão tendendo para usos mais agressivos dessas unidades, incluíndo tentativas de seqüestrar e interrogar militantes suspeitos de serem líderes do Talibã e Al Qaeda. Apesar do Presidente Bush ter assinado uma ordem em Julho permitindo que Commandos dos EUA entrassem no Paquistão, com ou sem permissão de Islamabad, isso só aconteceu uma vez, no dia 3 de Setembro.
O ataque dos EUA á Síria em 26 de Outubro atropelou a sua soberania de maneira semelhante. Apesar de o Pentágono inicialmente negar que o ataque envolveu helicópteros e commandos em terra, foi exatamente isso que aconteceu. O ataque supostamente matou Badran Turki Hishan al-Mazidih, um iraquiano que "contrabandeou" lutadores estrangeiros para o Iraque através da Síria. Segundo o editorial do Washington Post:
"Se os ataques de domingo ,destinados a um líder da al-Qaeda, servir apenas para deixar
o Sr. Assad saber que os EUA também não está mais preparado para respeitar a soberania
de um regime criminoso, então tal ataque valeu a pena".
É realmente assim tão simples? Dizer que: nós declaramos seu regime criminoso, então nós vamos ataca-lo quando nós quisermos? Na sua reportagem do ataque a Síria, o Post sugere, em uma reportagem por Ann Scott Tyson e Ellen Knickmeyer, que o ataque está levando essas perseguições através de fronteiras para o nível de uma doutrina:
"O argumento dos militares é o de que "você só pode clamar a sua soberania se você
a fazer valer", disse Anthony Cordesman, um analísta militar no Centro para Estudos
Internacionais e Estratégicos. "Quando você está lidando com Estados que não man-
tém a sua soberania e se tornam um santuário, a única forma de lidar com eles é atra-
vés desse tipo de operação".
O Times aumenta a lista de possíveis alvos do Paquistão e Síria para o Irã, escrevendo (em uma reportagem de primeira página por Eric Schmitt e Thom Shanker):
" Oficiais da Administração negaram dizer se a crescente aplicação da auto-defesa pode
levar a ataques contra campos dentro do Irã, que tem sido usados para treinar "forças
especias" Xiitas que tem lutado contra forças dos EUA e Iraque.
Isso, logicamente, tem sido uma opção válida, especialmente desde o início da insurgência de Janeiro de 2007, quando o Presidente Bush prometeu atacar linhas de suprimento iranianas dentro do Iraque, e outros oficiais dos EUA, incluindo o Vice Presidente Cheney, pressionou para que realizassem ataques dentro do Irã, sem se preocupar com as consequências.
Logicamente, a própria invasão do Iraque em 2003 foi ilegal, e ignorou o Direito Internacional. Mas, alguns dizem, que esses ataques através de fronteiras são ignoráveis. Mas não são. Isso é importante. Se isso tornar-se uma parte padrão da doutrina militar dos EUA, que qualquer país pode ser considerado "criminoso", e consequentemente perder sua soberania, então não existe mais algo como Direito Internacional.
Quando o Secretário de Defesa Robert Gates foi questionado sobre isso, aqui está o que ele disse, como citado no artigo do post anterior:
"Nós vamos fazer o que for necessário para proteger as nossas tropas, ' disse o Secretário de
defesa Robert M. Gates em uma audiência do Senado no mês passado, quando questionado
sobre as operações através das fronteiras. Gates disse que ele não era um expert em Direito
Internacionaç, mas assumia que o Departamento do Estado tinha se consultado com tais
leis antes das forças armadas obterem autoridade para realizar tais ataques."
Não é um expert em Direito Internacional? Vai deixar para o Departamento do Estado? E é esse cara que os conselheiros de Barack Obama disseram que deviam ficar no Pentágono durante o novo mandato?
Rovert Dreyfuss, 30 de outubro de 2008
Fonte: AlterNet, www.alternet.org
quinta-feira, 30 de outubro de 2008
O Massacre de Sabra e Shatila
Sharon pode ser julgado na Bélgica quando deixar o poder
Mulher palestina protesta durante funeral em 1982
A maior corte de apelações da Bélgica decidiu que o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, pode ser julgado por crimes de guerra, mas apenas quando deixar o cargo.A decisão foi o resultado de uma apelação apresentada por um grupo de 23 palestinos que sobreviveram a um massacre no Líbano, em 1982, quando Sharon era o ministro da Defesa israelense.As mortes nos campos de refugiados de Sabra e Shatila foram provocadas por uma milícia cristã libanesa apoiada pelo governo de Israel, que ocupou o sul do Líbano na época.O governo israelense retirou o seu embaixador na Bélgica "para consultas" após o anúncio da decisão da corte de apelações.Jurisdição universalO processo contra Sharon foi aberto graças à lei de "jurisdição universal" criada na Bélgica em 1993. A legislação permite que pessoas acusadas de cometer crimes de guerra sejam julgadas, independente do local onde as infrações foram cometidas.Há alguns meses, uma corte em instância inferior havia decidido que Sharon não poderia ser julgado porque ele não estava na Bélgica.
Sharon expressou pesar por "terrível tragédia"Uma investigação israelense conclui que Sharon foi "indiretamente responsável" pelos massacres em Sabra e Shatila por falhar em evitar a morte de um número entre 800 e 2 mil refugiados.Na época, Sharon foi forçado a abandonar o cargo de ministro da Defesa, mas o atual primeiro-ministro de Israel nunca foi julgado pelos massacres.Em 2001, durante uma campanha eleitoral, Sharon expressou pesar pela "terrível tragédia" em Sabra e Shatila, mas negou qualquer responsabilidade.Além de Sharon, outras importantes figuras do cenário político internacional correm o risco de enfrentar um julgamento na Bélgica.A Justiça belga já registrou pedidos de abertura de processo contra o líder palestino Yasser Arafat, o presidente de Cuba, Fidel Castro, o presidente do Iraque, Saddam Hussein, e o presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo.
Eleições: Anúncio milionário
Eu só tenho a dizer que... Se até o Google te apóia... Amigo, de quem mais você precisa?
Ao longo de 30 minutos no horário nobre e em formato de documentário com música de fundo e tom épico, o candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, tratou de alguns dos temais mais relevantes da disputa eleitoral, sempre fazendo uma correlação com casos reais de famílias americanas. E prometeu, caso seja eleito: “Vamos mudar o país e mudar o mundo.”
Segundo estimativas, a campanha de Obama pagou cerca de US$ 5 milhões (mais de R$ 10 milhões) pelo comercial de meia hora em três das quatro cadeias de televisão em aberto (CBS, NBC e Fox) e também no canal a cabo MSNBC, a rede em espanhol Univisión e em dois canais orientados a uma audiência afro-americana: BET e TV One. “Nunca esquecerei que quando mandar soldados para a guerra, estou mandando filhos, maridos e pais americanos”, disse, alegando que se empenharia na manutenção da segurança nacional dos Estados Unidos e continuaria a luta contra o terrorismo no Afeganistão.
Foto: Reprodução/Reters
Barack Obama, durante comercial milionário na televisão americana, na noite desta quarta-feira (29) (Foto: Reprodução/Reuters)
O candidato falou sobre saúde pública. “Muitos -americanos não conseguem ter cuidado de saúde de que precisam”, disse Obama, apresentando mais detalhadamente uma proposta já apresentada durante os debates. Segundo ele, seu plano é oferecer seguro de saúde semelhante ao que têm os funcionários públicos, mas sem impor nada. “Me lembro todos os dias que não sou perfeito. Não vou ser um presidente perfeito, mas prometo que sempre serei honesto com vocês e vou ouvi-los quando discordarmos. Mais importante, vou abrir as portas do governo para todos os americanos”, disse. “América, a hora da mudança chegou”, disse, entrando ao vivo da Flórida ao final do anúncio de 30 minutos. “Em seis dias podemos transformar este país, podemos nos reunir como uma nação, um povo”, afirmou. “É por isso que vamos lutar. Se vocês ficarem ao meu lado, prometo que vamos vencer as eleições e juntos, consertar o país e mudar o mundo” finalizou.
Além do próprio candidato e de eleitores de todo o país escolhidos para aparecer no anúncio, a família de Obama e outros políticos do partido democrata, como o candidato a vice-presidente Joe Biden apareceram para falar de Obama. A intenção era apresentá-lo como “o melhor político da sua geração”.
Atentados quase simultâneos na Índia deixam mais de 60 mortos
"Até agora, 61 pessoas morreram nas explosões e 300 outras ficaram feridas, entre elas 75 em estado crítico", declarou, por sua vez, o primeiro-ministro do Estado de Assam, Tarum Gogoi.
O balanço anterior emitido pela polícia citava pelo menos 48 mortos e mais de 100 feridos em 12 atentados ocorridos num interrvalo de uma hora em vários pontos de Assam, cuja cidade principal é Guwahati.
Ao que tudo indica 12 explosões sincronizadas afetaram, em menos de uma hora, Assam e sua principal cidade, Guwahati, segundo a agência oficial Press Trust of India.
Os canais de televisão exibiram cenas de pânico e pessoas feridas sendo levadas para hospitais em meio a veículos carbonizados.
Uma das explosões destruiu um mercado de frutas em Guwahati, muito próximo de edifícios do governo regional de Assam e da Assembléia Provincial.
O nordeste da Índia forma um enclave entre o Butão e a China pelo norte, Mianmar pelo leste e Bangladesh pelo oeste.
Os estados indianos de Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, Tripura e Mizoram são, em diversos graus, cenários de insurreições separatistas e atos de violência intercomunitárias que, desde a independência da Índia em agosto de 1947, deixaram 50.000 mortos.
"Não determinamos a natureza exata das explosões, nem que poderia estar por trás dos atentados. Estamos muito ocupados com as operações de resgate", afirmou o comissário da polícia de Assam, G.P. Singh.
No estado de Assam, o grupo rebelde Frente Unida de Libertação de Assam (ULFA) luta desde 1979 pela independência. Os conflitos na região, famosa pelas plantações de chá, provocaram 10.000 mortes em 20 anos.
Os rebeldes separatistas acusados de cometer os atentados negaram participação nos ataques.
"Não estamos de nenhuma maneira envolvidos nas explosões", afirma um comunicado da ULFA.
A ministra regional de Saúde, Himanta Biswa Sarma, afirmou à imprensa que a ULFA parecia ser responsável pelas explosões em Guwahati e em outras três áreas do leste do estado de Assan.
"Tudo aponta par os rebeldes da Frente Unida de Libertação de Assam, já que no passado executaram este tipo de explosões em série no estado", afirmou Sarma.
Ao que parece, as bombas foram instaladas em bicicletas.
Mais prudente, o primeiro-ministro de Assam denunciou o "ato covarde destinado a aterrorizar e que exige uma resposta firme".
A ULFA, que antes tinha muito apoio, perdeu o respaldo da população a partir do momento em que os atentados em locais públicos passaram a provocar muitas vítimas civis.
Atentado mata 5 em Cabul no dia de reunião de líderes
32 minutos atrás
Os presidentes de Afeganistão e do Paquistão discutiram hoje esforços para a paz na região em uma conferência na Turquia. Os dois líderes se encontraram horas depois de militantes do Taleban invadirem um prédio do Ministério de Informação e Cultura, em Cabul, capital do Afeganistão. Um deles se explodiu no interior do edifício, matando cinco pessoas - três funcionários do ministério, um policial e um civil.
O presidente afegão, Hamid Karzai, e o primeiro-ministro paquistanês, Yousaf Raza Gilani, mantiveram conversas com o primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, cujo governo quer ajudar a mediar os temas regionais.
O governo afegão busca negociar com altos membros do Taleban, em um esforço pela reconciliação do país. O ex-embaixador do Taleban no Paquistão afirmou que os dois lados se encontraram recentemente, na Arábia Saudita.
Karzai condenou o ataque, considerado por ele uma tentativa para minar o diálogo com os militantes, para encerrar os sete anos de insurgência no país. O Taleban assumiu a autoria do atentado.
Hamas liberta 17 membros do Fatah em Gaza
Os 17 homens, todos dirigentes do Fatah, deixaram Saraya, a principal prisão de Gaza.
Haniye anunciou a libertação de presos políticos num gesto de boa vontade antes de um diálogo de reconciliaçao interpalestino previsto no Egito para 9 de novembro.
O Hamas se apoderou do poder em Gaza em junho de 2007 expulsando as forças do partido Fatah do presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas.
Obama: bem vindo ao clube

A saída de George W. Bush da Casa Branca é antecipada por todo o mundo, especialmente entre os países árabes. Mas o que o futuro promete ao novo presidente dos Estados Unidos? Ao que tudo indica, nada em especial. A cada dia que passa, o candidato Barack Obama se mostra mais fortalecido contra seu concorrente JohnMcCain, e mais inclinado a seguir o mesmo caminho destrutivo dos demais presidentes estadunidenses.
É verdade que Obama prometeu um nível de retirada de soldados do Iraque e um grau de negociação com o Irã, mas essas são promessas ambíguas que podem ser modificadas da noite para o dia, devido a pressões internas de lobistas internos .
A história começou a mudar, por exemplo, quando a“retirada do Iraque” se transformou em “transferência para o Afeganistão”, um sinal de que a mentalidade militarista que sempre conduziu a política externa dos Estados Unidos ainda está para mudar. A valiosa lição de que bombas não trazem paz ainda há deser aprendida por políticos estadunidenses.
Desde que Obama se tornou o candidato democrata para as eleições presidenciais, a sua exageração pró-Israel manchou a imagem de “mudança” tão prometida por ele nas fases iniciais de campanha. Ao visitar Jerusalém, a cidade sagrada das três grandes religiões monoteístas, Obama garantiu que, em seu termo como presidente, “Jerusalém permanecerá intacta”. Essa posição, dividida entre todos os presidentes estadunidenses desde a unilateral independência de Israel, nega a Lei Internacional. “Qualquer acordo com o povo palestino deve preservar a identidade de Israel como Estado judeu”, declarou Obama. Assim como qualquer outro líder estadunidense, Obama promete manter a mesma política cega que desestabiliza o Oriente Médio há gerações, protegendo indiscriminadamente Israel e opondo-se a qualquer medida que possa levar a paz à região.Uma pesquisa internacional conduzida pela World Public Opinion em 18 países procurou avaliar a opinião pública quanto ao conflito na Palestina. Os dados foram publicados no dia 1º de julho no portal http://www.worldpublicopinion.org/.
Em 14 países, entre eles Estados Unidos, França e Reino Unido,
a maioria da população afirmou queo governo local “não deveria apoiar a Palestina ou Israel”. Três países declararam apoio ao povo palestino – Egito, Irã e Turquia, ena Índia houve empate na pesquisa. Nos Estados Unidos, 71% dapopulação votaram em não tomar lado algum no conflito. Considerando isso, porque é então que o “candidato da mudança”não ouve a sua própria nação e abandona esse caminho destrutivo quanto à causa da Palestina? Barack Obama visitou Israel e a Europa. Por onde passou, o clima foi festivo e promissor. A mídia ocidental exaltou o desempenho do candidato. Quanto aos palestinos, mais do mesmo: demandas arrogantes e promessas políticas injustas. Ainda em Israel, na cidade sulista de Sderot, um sorridente e emocionado Obama posou para a mídia ocidental com uma camiseta que dizia: “Eu amo Sderot”. Obviamente, ele não visitou Gaza para sentir como seria recebido pelos palestinos. É interessante imaginar o que diria uma camiseta oferecida para Obama pelo povo palestino de Gaza. Mas mesmo assim, ele não posaria com ela para a mídia ocidental.
Humam al-Hamzah
Zaid Muhammad
Jornal Oriente Médio Vivo, 116ª edição
13 de outubro de 2008
quarta-feira, 29 de outubro de 2008
‘Vamos consertar o país e mudar o mundo’, diz Obama em anúncio milionário
Daniel Buarque Do G1, em Columbus, Ohio (EUA)
Ao longo de 30 minutos no horário nobre e em formato de documentário com música de fundo e tom épico, o candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, tratou de alguns dos temais mais relevantes da disputa eleitoral, sempre fazendo uma correlação com casos reais de famílias americanas. E prometeu, caso seja eleito: “Vamos consertar o país e mudar o mundo.”
Segundo estimativas, a campanha de Obama pagou cerca de US$ 5 milhões (mais de R$ 10 milhões) pelo comercial de meia hora em três das quatro cadeias de televisão em aberto (CBS, NBC e Fox) e também no canal a cabo MSNBC, a rede em espanhol Univisión e em dois canais orientados a uma audiência afro-americana: BET e TV One.
“Nunca esquecerei que quando mandar soldados para a guerra, estou mandando filhos, maridos e pais americanos”, disse, alegando que se empenharia na manutenção da segurança nacional dos Estados Unidos e continuaria a luta contra o terrorismo no Afeganistão.
O candidato falou sobre saúde pública. “Muitos -americanos não conseguem ter cuidado de saúde de que precisam”, disse Obama, apresentando mais detalhadamente uma proposta já apresentada durante os debates. Segundo ele, seu plano é oferecer seguro de saúde semelhante ao que têm os funcionários públicos, mas sem impor nada.
“Me lembro todos os dias que não sou perfeito. Não vou ser um presidente perfeito, mas prometo que sempre serei honesto com vocês e vou ouvi-los quando discordarmos. Mais importante, vou abrir as portas do governo para todos os americanos”, disse.
“América, a hora da mudança chegou”, disse, entrando ao vivo da Flórida ao final do anúncio de 30 minutos. “Em seis dias podemos transformar este país, podemos nos reunir como uma nação, um povo”, afirmou. “É por isso que vamos lutar. Se vocês ficarem ao meu lado, prometo que vamos vencer as eleições e juntos, consertar o país e mudar o mundo” finalizou.
Além do próprio candidato e de eleitores de todo o país escolhidos para aparecer no anúncio, a família de Obama e outros políticos do partdo democrata, como o candidato a vice-presidente Joe Biden apareceream para falar de Obama. A intenção era apresentá-lo como “o melhor político da sua geração”.
terça-feira, 28 de outubro de 2008
ONU e as Missões de Paz
As operações de paz
As operações de paz das Nações Unidas são um instrumento singular e dinâmico, desenvolvido pela Organização para ajudar os países devastados por conflitos a criar as condições para alcançar uma paz permanente e duradoura. A primeira operação de paz das Nações Unidas foi estabelecida em 1948, quando o Conselho de Segurança autorizou a preparação e o envio de militares da ONU para o Oriente Médio para monitorar o Acordo de Armistício entre Israel e seus vizinhos árabes. Desde então, 63 operações de paz das Nações Unidas foram criadas.
Ao longo dos anos, as operações de paz evoluíram para atender as necessidades de diferentes conflitos e panoramas políticos. Criadas na época em que as rivalidades da Guerra Fria freqüentemente paralisavam o Conselho de Segurança, os objetivos das operações de paz da ONU eram a princípio limitados à manutenção de cessar-fogo e alívio de tensões sociais, para que os esforços, em nível político, resolvessem o conflito por vias pacíficas. Estas missões consistiam em observadores militares e tropas equipadas com armamento leve, com a função de monitorar e ajudar no cessar-fogo e em acordos de paz limitados.
Com o fim da Guerra Fria, o contexto estratégico para as tropas de paz da ONU mudou dramaticamente, fazendo com que a Organização expandisse seu campo de atuação, de missões “tradicionais” envolvendo somente tarefas militares a complexas operações “multidimensionais” criadas para assegurar a implementação de abrangentes acordos de paz e ajudar a estabelecer as bases para uma paz sustentável. Hoje as operações realizam uma grande variedade de tarefas, desde ajudar a instituir governos, monitorar o cumprimento dos direitos humanos, assegurar reformas setoriais, até o desarmamento, desmobilização e reintegração de ex-combatentes.
A natureza dos conflitos também mudou ao longo dos anos. Originalmente desenvolvidas como uma maneira de lidar com conflitos internacionais, as operações de paz têm atuado cada vez mais em conflitos intranacionais e guerras civis. Embora a força militar permaneça como o suporte principal da maioria das operações, atualmente as missões contam com administradores e economistas, policiais e peritos em legislação, especialistas em desminagem e observadores eleitorais, monitores de direitos humanos e expertos em governança e questões civis, trabalhadores humanitários e técnicos em comunicação e informação pública.
Membros da Força de Paz testam o equipamento de rádio no Egito (1974)
As missões de paz das Nações Unidas continuam a evoluir, tanto conceitualmente como operacionalmente, para responder a novos desafios e realidades políticas. Frente à crescente demanda por missões cada vez mais complexas, a ONU, nos últimos anos, tem sido cobrada e desafiada como nunca. A Organização tem trabalhado vigorosamente para fortalecer sua capacidade de administrar e sustentar as operações e, deste modo, contribuir para sua mais importante função: manter a segurança internacional e a paz mundial.
Um elemento central de resposta a conflitos internacionais
As tropas de paz da ONU proporcionam o apoio e a segurança essenciais a milhões de pessoas, assim como a instituições frágeis, emergindo de um conflito. Tropas são enviadas a regiões devastadas por guerras, onde ninguém pode ou quer ir, e evitam que o conflito recomece ou cresça ainda mais.
O caráter internacional das missões de paz autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU proporciona a qualquer operação de paz das Nações Unidas uma legitimidade incontestável.
As operações de paz da ONU são um veículo imparcial e amplamente aceito por sua ação efetiva.
As operações de paz da ONU proporcionam um elemento de segurança vital e estabilizador em situações pós-conflito, o que possibilita que os esforços de paz prossigam. Mas as missões de paz podem não ser a única ferramenta necessária para tratar de todas as situações de crise.
As operações de paz apóiam o processo de paz, não podem substituí-lo.
Uma iniciativa de porte
A ONU é a maior contribuinte multilateral para a estabilização pós-conflito em todo o mundo. Apenas os Estados Unidos possuem um contingente militar maior no terreno do que o das Nações Unidas.
Existem cerca de 110 mil pessoas servindo em vinte operações de paz lideradas pelo Departamento de Operações de Manutenção da Paz das Nações Unidas (DPKO) nos quatro continentes, em doze fusos horários diferentes, impactando diretamente a vida de centenas de milhares de pessoas. Os números atuais são sete vezes maiores do que aqueles de 1999.
Além disso, o Departamento de Apoio Logístico (DFS), criado recentemente, auxilia treze missões políticas especiais e/ou de construção da paz gerenciadas pelo Departamento de Assuntos Políticos (DPA), assim como outros escritórios no terreno que precisam de assistência administrativa e logística da sede da ONU.
A ONU não dispõe de uma força militar própria, ela depende de contribuição dos Estados-Membros. Em janeiro de 2008, 119 países estavam contribuindo com forças militares e policiais para as missões de paz da ONU.
Neste mesmo mês, mais de 80 mil membros das forças de paz eram militares – tropa e observadores - e 11 mil eram policiais. Trabalhando em conjunto com eles, estavam trabalhando no terreno quase seis mil funcionários civis internacionais, mais de 13 mil funcionários civis locais e aproximadamente 2.300 voluntários da ONU, provenientes de mais de 160 nações.
No Congo, as Forças de Paz, participam do processo de desarmamento do país (2002)
As mulheres estão aumentando sua participação nas operações de paz:: entre fevereiro de 2007 e janeiro de 2008, houve um acréscimo de 40% de mulheres servindo nas missões. Atualmente, uma mulher lidera uma operação de paz como Representante Especial do Secretário-Geral (SRSG) e duas outras mulheres são Sub-SRSGs. A Chefe Interina do Departamento de Apoio Logístico e a Chefe de Pessoal do DPKO também são mulheres. Além disso, uma unidade de policiais da Índia foi o primeiro contingente formado somente por mulheres a se juntar a uma força de paz da ONU. Em 2007, elas se integraram à operação de paz na Libéria.
O contingente indiano, formado por mulheres, chega à Libéria
Uma história de sucessos
Desde 1945, 63 forças de paz foram criadas, permitindo, entre muitas outras coisas, que pessoas em mais de 45 países pudessem participar de eleições livres e justas. Apenas na última década, as missões de paz também foram responsáveis pelo desarmamento de mais de 400 mil ex-combatentes e ajudar em sua reinserção na vida civil.
A ONU é uma provedora de tropas eficientes e de baixo custo. Seus especialistas, particularmente em missões integradas, possuem amplas capacidades civis e militares necessárias para estabilizar e propiciar o desenvolvimento em situações pós-conflitos.
Em 2007, a Assembléia Geral da ONU promoveu a reestruturação deste importante setor da ONU, reorganizando o DPKO e criando o DFS. O processo de reestruturação também incluiu um aumento de recursos financeiros para a área e a criação de novas capacidades e estruturas integradas para enfrentar a crescente complexidade desta atividade.
No Sahara Ocidental, a base da ONU sofre com tormentas de areia (2006)
Nesta nova estrutura, o DPKO é o responsável pela estratégia e gerenciamento das operações de paz, enquanto o Departamento de Apoio Logístico provê suporte operacional e profissionais especializados nas áreas de pessoal, financeiro e orçamentário, comunicações, informação e tecnologia e logística.
Adaptáveis a diferentes ambientes e necessidades
As Nações Unidas têm mostrado uma crescente flexibilidade nas estruturas e tipos de missões de paz. Esta flexibilidade permitiu uma boa resposta a desafios únicos.
A ONU, cada vez mais, trabalha em parceria com outras organizações regionais e internacionais, tais como a União Africana (UA) ou a União Européia (EU), a fim de maximizar os seus efeitos.
Campanha para ensinar as crianças haitianas sobre o perigo das armas (2007)
De ações que visavam o retorno da lei em favelas em Porto Príncipe, no Haiti, até a missão conjunta UA-ONU em Darfur, no Sudão, as operações de paz da ONU continuam a expandir-se e a adaptar-se aos desafios globais para manter a paz e a segurança.
Desde a proteção de civis no leste da República Democrática do Congo (DRC) até a promoção de eleições no Timor Leste ou na Libéria, as operações de paz utilizam todas as ferramentas fornecidas pelo Sistema da ONU para a construção e a manutenção de uma paz sustentável.
Ajuda na organização das eleições no Burundi (2005)
Desminagem
Como parte das operações de paz da ONU, a desminagem, administrada pelo Serviço de Ação contra Minas da ONU (UNMAS), está permitindo que membros de forças de paz possam cumprir seus mandatos no Chipre, República Democrática do Congo, Eritréia/Etiópia, Líbano, Sudão e o Saara Ocidental.
Até o momento, estas equipes já retiraram minas de 50% das principais estradas no sul do Sudão permitindo a presença de forças de e o envio de comboios humanitários àquela área.
O Centro de Desminagem para o Afeganistão desarmou minas terrestres e explosivos remanescentes da guerra em mais de um bilhão de metros quadrados de área.
O Centro de Coordenação para Desminagem no sul do Líbano já “limpou” 32,6 milhões de metros quadrados dos 38,7 milhões que ficaram contaminados por munições cluster durante o conflito na região em 2006.
As operações de paz da ONU continuam evoluindo
Além de manter a paz e a segurança, os membros das forças de paz da ONU assistem e monitoram processos políticos, ajudam em reformas de sistemas judiciais, treinam policiais, desarmam e reintegram ex-combatentes, e apóiam o retorno de populações deslocadas e refugiados.
A assistência eleitoral da ONU é essencial nas suas operações de paz. Recentemente, as missões de paz das Nações Unidas promoveram e apoiaram eleições em sete países vivendo situações de pós-conflito: Afeganistão, Burundi, Haiti, Iraque, Libéria, República Democrática do Congo e Timor Leste, uma população acima de 120 milhões de pessoas, dando aos mais de 57 milhões de eleitores a chance de exercer seus direitos democráticos.
Os resultados da paz
Fazer com que suas equipes tenham os mais altos padrões de comportamento é uma grande prioridade para as operações de paz da ONU. Para isso, a ONU adotou uma série de estratégias para lidar com questões de exploração e violação sexual por parte de membros da forças de paz.
As operações de paz das Nações Unidas estabeleceram unidades de disciplina e conduta nos centros de operações e no campo.
O custo das forças de paz
As operações de paz da ONU são bem menos caras se comparadas a outras formas de intervenções internacionais e seus custos são compartilhados de forma eqüitativa entre todos os 192 Estados-Membros das Nações Unidas.
O orçamento aprovado para as operações de paz no período de 1 de julho de 2007 a 30 de junho de 2008 é de aproximadamente sete bilhões de dólares. Isto representa cerca de 0,5% das despesas militares em nível global (estimadas em 1,232 bilhão dólares em 2006).
Se compararmos os custos de cada militar aos custos das tropas norte-americanas, assim como com as de países desenvolvidos, da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) ou de organizações regionais, a ONU é de longe a opção menos cara.
Uma recente pesquisa realizada por economistas da Universidade de Oxford, na Inglaterra, demonstrou que intervenções militares internacionais das Nações Unidas, de acordo com o Capítulo VII da Carta da ONU, são a forma menos dispendiosa para prevenir que sociedades vivendo em situações de pós-conflito voltem a lutar.
Um estudo feito pelo Escritório de Responsabilidade do Governo dos Estados Unidos estimou que custaria aos EUA aproximadamente o dobro do que custa à ONU a criação de uma operação de paz semelhante à Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH) – 876 milhões de dólares comparado aos 428 milhões de dólares orçados pela Organização para os primeiros 14 meses da Missão.
O tamanho das forças de paz
Somente no ano de 2007, as operações de manutenção de paz da ONU administraram:
Vinte hospitais militares e mais de 230 clínicas médicas;
Mais de 18 mil veículos e 210 aeronaves;
450 satélites, 40 mil computadores e 2.800 servidores, com aproximadamente 3,5 milhões de e-mails e 2,5 milhões de ligações telefônicas realizadas todos os meses (aproximadamente uma ligação por segundo) e uma média de 200 videoconferências por mês.
A Guerra do Golfo
Em 02 de agosto de 1990, o Iraque invadia o Kuwait. A ocupação era o estopim da primeira Guerra do Golfo, liderada pelos Estados Unidos, então governado por George Bush, pai do atual presidente americano. Saddam Hussein justificou a invasão afirmando que o Kuwait praticava uma política de superextração de petróleo, para fazer o preço cair no mercado e prejudicar a economia iraquiana.
A primeira Guerra do Golfo foi um conflito militar ocorrido inicialmente entre o Kuwait e o Iraque de 2 de agosto de 1990 a 27 de fevereiro de 1991, que acabou por envolver outros países. Saddam Hussein exigia que o Kuwait perdoasse a dívida de US$ 10 bilhões contraída pelo Iraque durante a guerra com o Irã (1980) e também cobrava indenização de US$ 2,4 bilhões, alegando que os kuwaitianos extraíram petróleo de campos iraquianos na região fronteiriça de Rumaila. Estavam ainda em jogo antigas questões de limites, como o controle dos portos de Bubiyan e Uarba, que dariam ao Iraque novo acesso ao Golfo Pérsico.
A invasão aconteceu apesar das tentativas de mediação da Arábia Saudita, do Egito e da Liga Árabe. As reações internacionais foram imediatas. O Kuwait é grande produtor de petróleo e país estratégico para as economias industrializadas na região. Em 6 de agosto, a ONU impõe um boicote econômico ao Iraque. No dia 28, Hussein proclama a anexação do Kuwait como sua 19ª província. Aumenta a pressão norte-americana para a ONU autorizar o uso de força. Hussein tenta em vão unir os árabes em torno de sua causa ao vincular a retirada de tropas do Kuwait à criação de um Estado palestino. A Arábia Saudita torna-se base temporária para as forças dos EUA, do Reino Unido, da França, do Egito, da Síria e de países que formam a coalizão anti-Hussein. Fracassam as tentativas de solução diplomática, e, em 29 de novembro, a ONU autoriza o ataque contra o Iraque, caso seu Exército não se retire do Kuwait até 15 de janeiro de 1991. Em 16 de janeiro, as forças coligadas de 28 países liderados pelos EUA dão início ao bombardeio aéreo de Bagdá, que se rende em 27 de fevereiro. Como parte do acordo de cessar-fogo, o Iraque permite a inspeção de suas instalações nucleares.
Tecnologia na guerra – A Guerra do Golfo introduziu recursos tecnológicos sofisticados, tanto no campo bélico como em seu acompanhamento pelo resto do planeta. A TV transmitiu o ataque a Bagdá ao vivo, e informações instantâneas sobre o desenrolar da guerra espalharam-se por todo o mundo. A propaganda norte-americana anunciava o emprego de ataques cirúrgicos, que conseguiriam acertar o alvo militar sem causar danos a civis próximos. Tanques e outros veículos blindados tinham visores que enxergavam no escuro graças a detectores de radiação infravermelha ou a sensores capazes de ampliar a luz das estrelas. Mas o maior destaque era o avião norte-americano F-117, o caça invisível, projetado para minimizar sua detecção pelo radar inimigo.
Conseqüências – O número estimado de mortos durante a guerra foi de 100 mil soldados e 7 mil civis iraquianos, 30 mil kuwaitianos e 510 homens da coalizão. Após a rendição, o Iraque enfrentou problemas internos, como a rebelião dos curdos ao norte, dos xiitas ao sul e de facções rivais do partido oficial na capital. O Kuwait perdeu US$ 8,5 bilhões com a queda da produção petrolífera. Os poços de petróleo incendiados pelas tropas iraquianas em retirada do Kuwait e o óleo jogado no golfo provocaram um grande desastre ambiental.
Em tempo: Segundo analistas, a eleição de George W. Bush para a presidência dos Estados Unidos foi fundamental para a realização da "segunda edição" do conflito, ocorrida esse ano. Bush é filho do presidente que conduziu os americanos na primeira Guerra do Golfo. Segundo eles, o atual líder pretendia reparar o fracasso do pai, que não conseguiu eliminar Saddam Hussein.
Além disso, os principais assessores de George W. Bush participaram do conflito anterior e consideram que a missão americana no Iraque está inacabada. Em 1991, Dick Cheney, atual vice-presidente, era secretário de Defesa; Donald Rumsfeld, atual secretário de Defesa, era assessor militar; Condoleezza Rice, assessora de Segurança Nacional, era assessora para assuntos externos; Colin Powell, hoje secretário de Estado, era comandante das tropas no Iraque.
INVASÃO DO KUWAIT (1990)
Às 2h da manhã (hora local do Kuwait), do dia 2 de agosto de 1990, tropas iraquianas atravessaram a fronteira com o Kuwait e assumiram o controle da capital do país, a Cidade do Kuwait. As forças armadas kuwaitianas, em número muito inferior, não puderam oferecer grande resistência. O líder do Kuwait, Sheik Jaber Al-Ahmed Al-Sabah, fugiu para a Arábia Saudita, onde obteve asilo. Saddam Hussein argumentou, na época, que seu ataque foi em apoio a um levante que vinha sendo planejado contra o governo do pequeno emirado. Assassinatos e maus tratos contra kuwaitianos que resistiram à ocupação iraquiana foram ocorrências comuns. Centenas de estrangeiros foram mantidos em fábricas e bases militares kuwaitianas como escudos humanos, mas foram libertados antes do início da campanha militar dos países ocidentais contra o Iraque. A invasão do Kuwait ocorreu num momento em que o Iraque enfrentava uma crise econômica em decorrência de suas dívidas de guerra. Saddam acusou o Kuwait de manter os preços do petróleo em baixa e de explorar mais petróleo do que tinha direito em um campo de extração dividido pelos dois países. O Iraque nunca aceitou as fronteiras entre os dois países, estabelecidas pelos britânicos, que defendiam a independência do Kuwait. Então, quando o Kuwait se recusou a perdoar as dívidas de guerra do Iraque, foi a deixa que Bagdá esperava para realizar a invasão. O Conselho de Segurança da ONU impôs sanções econômicas e aprovou uma série de resoluções condenando o Iraque. Uma coalizão de vários países então foi formada e milhares de soldados foram enviados para a região do Golfo Pérsico. Os Estados Unidos conceberam um plano de batalha, e o general americano Norman Schwartzkopf foi colocado em controle das operações. Em novembro de 1990, depois que foram abandonadas as tentativas de resolver a crise através dos canais diplomáticos, a ONU estabeleceu um prazo final para que o Iraque saísse do Kuwait e autorizou o uso de “todos os meios necessários” para forçar o Iraque a obedecer a determinação.
TEMPESTADE NO DESERTO
Em 17 de janeiro de 1991, aviões dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e de outros países aliados realizaram o primeiro ataque ao Iraque. Na ocasião, enquanto o presidente americano George Bush prometia que os Estados Unidos “não iriam falhar”, Saddam Hussein anunciou que “a mãe de todas as batalhas estava em andamento”. Mísseis de cruzeiro foram usados pela primeira vez num cenário real, disparados dos navios de guerra americanos no Golfo Pérsico. Imagens dos mísseis cruzando o céu de Bagdá foram filmadas e vistas nas TVs de todo o mundo. Os caças, bombardeiros e helicópteros aliados visaram centenas de alvos, como bases militares, campos de pouso, pontes, prédios do governo e usinas. Os aviões dos países do ocidente realizaram mais de 116 mil viagens de ataque nas seis semanas seguintes e lançaram sobre seus alvos um total de 85 mil toneladas de bombas. Cerca de 10% dessas bombas eram dotadas de tecnologia que lhes permitia acertar com precisão seus alvos, guiadas por uma mira a laser. Eram as chamadas “bombas inteligentes”.
MÍSSEIS SCUD
Na quinta-feira, dia 17 de janeiro, o Iraque lançou sua primeira onda de ataques com mísseis Scud contra alvos em Tel Aviv e Haifa, em Israel. Um outro Scud, disparado contra as forças americanas estacionadas na Arábia Saudita, foi interceptado no ar por um míssil americano Patriot. Israel disse que não iria retaliar, confiando nas baterias de mísseis Patriot instaladas às pressas em seu território. Uma missão das forças americanas para identificar e destruir os lançadores portáteis de mísseis Scud no Iraque foi logo iniciada, enquanto os mísseis continuaram sendo disparados contra Israel e Arábia Saudita. O ataque mais bem-sucedido foi em 25 de fevereiro, quando um Scud acertou um prédio na base americana de Dhahran, na Arábia Saudita, matando 28 militares dos Estados Unidos. No total, 39 mísseis Scud foram disparados contra Israel, causando prejuízos mas poucas vítimas.
VÍTIMAS CIVIS
O número de vítimas civis da Guerra do Golfo, classificadas como “efeito colateral” pelas Forças Armadas americanas, aumentou à medida em que os ataques continuavam. Refugiados que chegavam à fronteira da Jordânia relatavam casos de mortes de civis. Eles contavam também que Bagdá estava sem água e energia elétrica. Segundo o governo iraquiano, os Estados Unidos destruíram também uma fábrica de leite em pó para bebês. Já os americanos insistiram que se tratava de um centro de produção de armas biológicas. Em 13 de fevereiro, um bombardeiro “invisível” americano bombardeou um local onde, segundo forças aliadas, funcionaria um importante centro de comando iraquiano. Houve, porém, um erro na identificação do alvo. As bombas atingiram um abrigo antiaéreo utilizado por civis. Pelo menos 315 pessoas morreram, entre elas, 130 crianças. Saddam Hussein aproveitou o máximo que pôde os erros dos aliados para fazer propaganda de seu regime. O líder iraquiano também usou um crescente número de civis kuwaitianos como escudos humanos em importantes instalações militares e industriais do Iraque.
A GRANDE OFENSIVA
No domingo, 24 de fevereiro, as tropas aliadas lançaram a ofensiva aérea, terrestre e marítima, que, cem horas mais tarde, derrotou o Exército iraquiano. No dia anterior, o Iraque havia ignorado o prazo imposto para retirada de suas tropas do Kuwait e incendiado centenas de poços de petróleo kuwaitianos. Durante a ofensiva, as tropas aliadas tomaram o Iraque e o Kuwait a partir de vários locais ao longo da fronteira dos dois países com a Arábia Saudita. Centenas de tanques avançaram em direção ao norte para combater a Guarda Republicana do Iraque. Tropas aliadas também ocuparam a estrada que liga o sul do país ao Kuwait para interromper a entrega de equipamentos e suprimentos aos soldados inimigos que ocupavam o território kuwaitiano. No dia 26 de fevereiro, o Iraque anunciou que retiraria todas suas tropas do Kuwait, mas ainda se recusava aceitar todas as medidas impostas pela ONU. Durante a retirada, as forças aliadas bombardearam a longa coluna de tanques, veículos blindados, caminhões e tropas iraquianas, que fugiam do Kuwait em direção à cidade iraquiana de Basra. Milhares de soldados iraquianos morreram durante o ataque na rodovia que, desde então, é conhecida como “Estrada da Morte.” Estima-se que entre 25 mil e 30 mil iraquianos tenham morrido apenas na ofensiva terrestre.
CESSAR-FOGO IRAQUIANO
Em 27 de fevereiro de 1991, os kuwaitianos comemoraram a chegada de comboios americanos à capital. As forças especiais chegaram primeiro, seguidas por tropas kuwaitianas e pelos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Às 21 horas (hora de Washington, 23h, hora de Brasília), o presidente George Bush anunciou um cessar-fogo, com início previsto para as quatro da madrugada (6h em Brasília). Tropas aliadas capturaram milhares de soldados iraquianos. Muitos deles se renderam sem resistência, afinal, estavam exaustos, famintos e com baixo moral. Segundo estimativas dos Estados Unidos, 150 mil soldados do Iraque desertaram. Os aliados haviam perdido 148 soldados em batalha e outros 145 em outras situações, como, por exemplo, ataques realizados por engano por suas próprias tropas. Já do lado iraquiano, as estimativas apontam para algo entre 60 mil e 200 mil soldados mortos. Milhares de corpos foram enterrados no deserto em valas comuns. No dia dois de março, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou uma revolução com as condições do cessar-fogo. Entre as exigências, estavam o fim de todas as ações militares iraquianas, o fim da anexação do Kuwait e a libertação de prisioneiros. O Iraque também ficava obrigado a admitir a responsabilidade pelos danos e mortes provocados no Kuwait e a destruir suas armas químicas e biológicas. No dia seguinte, comandantes iraquianos aceitaram formalmente os termos do cessar-fogo durante encontro com militares americanos em uma base militar iraquiana capturada. Saddam Hussein não compareceu.
Impasses no Paraíso parte III
18 divisões do Exército
9 brigadas expedicionárias dos Marines
15 grupamentos de combate de porta aviões da Marinha
22 brigadas aéreas táticas da Força Aérea
Forças Ativas dos EUA – 2000
10 divisões do Exército
5 brigadas expedicionárias dos Marines
11 grupamentos de combate de porta aviões da Marinha
13 brigadas aéreas táticas da Força Aérea
As informações mencionadas carecem de alguns esclarecimentos adicionais. No caso do Exército, as divisões são as “grandes unidades” da força. Isso significa que possuem toda a estrutura necessária para operar de modo independente – isto é, uma divisão é constituída por um setor de comando com estado-maior completo, corpo de saúde, unidades de engenheiros, trem de transporte, artilharia divisionária, flotilha de helicópteros de apoio, etc. Segundo a reforma implementada durante o período Clinton, as divisões estão distribuídas em 5 leves (light divisions) e 5 pesadas (heavy divisions). Dentre as divisões leves destacam-se a 82°, a 101° aerotransportadas e a 10° divisão de montanha de Nova Iorque. Estas seriam, fundamentalmente, as grandes unidades de intervenção rápida do Exército. Uma divisão pode ter entre 10 mil e 18 mil homens, agrupados em 3 brigadas de combate. As divisões pesadas organizam-se em torno de regimentos de tanques de batalha. O exército conta também com unidades de menor porte, independentes das divisões. São tropas consideras aptas para operações especiais, tais como os Rangers , (organizados em 3 batalhões ligeiros), os Boinas Verdes (organizados em cinco grupos especiais cujos números são variados), o 160° Regimento de Operações Especiais de Aviação (provavelmente contendo 3 batalhões) e o Destacamento Delta (também conhecido como Delta Force), unidade sobre a qual nunca se sabe muita coisa.
As forças navais por seu lado, dispõem em termos de embarcações de combate, de 12 porta-aviões de ataque (dentre eles, 8 nucleares), 27 cruzadores, 54 contratorpedeiros, 35 fragatas, 132 porta-helicópteros, 50 embarcações para operações anfíbias e uma frota de 54 submarinos nucleares. Os grupos de batalha da marinha (task force) se organizam em torno dos porta-aviões (cada um deles transportando em média 70 aeronaves), sendo que os submarinos habitualmente atuam de modo independente. As brigadas dos Marines estão agrupadas em 3 divisões. A maior delas é a 1°Divisão que conta com 18.250 oficiais e soldados (quadros completos). As unidades de Marines possuem ainda sua própria aviação de apoio (sediada de um modo geral nos porta-aviões), helicópteros de reconhecimento, transporte e combate, bem como batalhões de tanques de batalha. Os efetivos totais do US Marine Corps, perto de 200 mil integrantes, perfaz a maior força de intervenção rápida e projeção de poder do mundo.
Finalmente as brigadas táticas da Força Aérea passaram a se organizar em Aerospace Expeditionary Force (AEF), cada uma delas contendo alas de aeronaves de caça, bombardeiros (médios e pesados), aeronaves de apoio aproximado, reconhecimento e transporte. Cada AEF inclui 15 mil homens e por volta de 175 aviões. As aeronaves de altíssima tecnologia, os famosos “aviões invisíveis” (isto é, dificilmente detectados pelos aparelhos de radar) costumam integrar esquadrilhas especiais.
As reduções demonstradas nas tabelas acima, ocorreram principalmente no decurso das duas administrações democratas do presidente Bill Clinton. Para termos idéia da ordem de grandeza em números absolutos, o pessoal militar que em 1990 alcançava um efetivo de 2.070.000, caiu em 1999 para um efetivo de 1.453.000. Embora entre o fim da Guerra Fria e o advento do 11 de setembro, tenha havido uma redução nos gastos militares dos EUA – retomados em escala crescente após os ataques à Nova Iorque e Washington, a redução de efetivos pode não necessariamente significar uma diminuição dos gastos militares correspondentes. Mesmo que no orçamento, os gastos com pessoal tenham diminuído, as despesas com pesquisa e desenvolvimento certamente cresceram sobremaneira.
A questão é que a escolha de apostar em equipamentos de alta tecnologia aumenta bastante a cadeia de custos. Estamos falando das verbas destinadas às universidades e às empresas para pesquisas, desenvolvimento de protótipos, testes e tudo mais. Acrescentemos o tempo mais longo indispensável para o treinamento do pessoal militar destinado a operar os engenhos. Finalmente não podemos esquecer das despesas de manutenção dos equipamentos (muitos deles sensíveis) e a reposição de perdas por causa de acidentes ou em combate. Esse aumento de custo tecnológico é em parte compensado pela redução das quantidades de munição usadas durante as campanhas (a maior precisão conduz, tanto a um número menor de sortidas (missões das aeronaves) para destruir o alvo quanto uma quantidade menor de bombas), e também economiza vidas entre os combatentes, pois o apoio de fogo aproximado mais preciso, bem como a capacidade de “decapitar o adversário”, quer dizer, destruir seu centro de comando e controle, diminui consideravelmente sua capacidade de resposta e coordenação das forças em combate.
Nem precisamos entrar em detalhes para que o leitor se recorde que este foi exatamente o tipo de campanha que os EUA, auxiliados pela Grã-Bretanha, empreenderam contra o Iraque em março-abril de 2003. Graças à formidável cobertura proporcionada pelos mísseis Tomarrock Cruise (para ataques de média distância) e pelas aeronaves e helicópteros de combate, unidades de terra bem pouco numerosas e dotadas de excepcional mobilidade puderam levar a cabo a campanha enfrentando um número muito pequeno de contratempos. Em termos de número de tropas, as forças atacantes jamais somaram mais de 160 mil homens (acrescentemos a esse montante por volta de 22 mil britânicos). O Exército iraquiano por seu lado, brilhou pela ausência. O fato é que pouco poderia fazer contra o aparato reunido pelos EUA. Suas tropas de terra não contavam com qualquer cobertura aérea. As posições de artilharia eram rapidamente localizadas e duramente bombardeadas. Qualquer tentativa de concentração de unidades, seja para a defesa estática, seja para efeito de contra-ataque, estava fadada a sofrer o mesmo destino. Finalmente, os centros de comando e controle, devidamente localizados pelo serviço de inteligência norte-americano receberam golpes demolidores logo nos primeiros dias.
Ainda não temos (pelo menos não até o presente momento) uma estimativa clara das baixas sofridas pelas unidades iraquianas durante o conflito. Supomos que esse número seja inferior às perdas em vidas humanas ocorridas na Guerra do Golfo de 1990/91. Também não temos como avaliar se a resistência tênue oferecida pelas forças armadas do Iraque foi fruto de uma decisão do regime em ordenar que suas tropas se dispersassem, já que um enfrentamento encarniçado do dispositivo militar norte-americano seria simplesmente inútil. Mesmo que o Exército iraquiano, em termos de preparo e eficiência, jamais tenha sido grande coisa (sua atuação na Guerra Irã – Iraque atesta este ponto), imaginamos que parcela de seus oficiais comandantes soubessem avaliar corretamente a desproporção das forças e aconselhado o regime a salvar o que fosse possível.
Sabe-se que durante a ofensiva anglo-americana de março de 2003, grande quantidade de dinheiro foi sacada de bancos iraquianos por autoridades governamentais. Providos de um “colchão protetor de dinheiro” e tendo o cuidado de espalhar depósitos de armas e munições em vários pontos do país, as condições para dar início a uma campanha de fustigação contra os adversários estariam lançadas.
Impasses no Paraíso: os limites do novo padrão militar dos EUA e a hora e a vez da política
O parágrafo anterior pode servir de fonte para entendermos o que anda a acontecer agora no Iraque ocupado. Grupos de integrantes das forças armadas iraquianas dispersos, podem estar por trás de pelo menos uma parte do movimento de resistência contra as tropas da coalizão. As autoridades do Pentágono tem insistido neste ponto. Na verdade, dão a entender que este seria o centro nervoso do sistema de resistência. Daí a importância de capturar os personagens do baralho distribuído aos soldados – as figuras chaves do regime deposto. Por enquanto o Pentágono afirma confiar na tática do aprisionamento ou eliminação destes elementos, indicando sua crença que uma vez neutralizados a resistência se enfraqueceria a ponto de tornar-se irrisória.
Outros (especialmente as autoridades inglesas), alegando conhecimentos mais amplos da história e das contradições que dividem os povos do Iraque, se recusam a emprestar credibilidade a um quadro tão confiante e simplista. Sunitas, grupos xiitas e líderes tribais podem perfeitamente articular a formação de unidades independentes, sem qualquer relação com os adeptos do antigo regime, e partir para a luta por conta própria. Existem ainda dois complicadores adicionais: o primeiro, devido ao colapso do sistema de segurança pública do país, constitui-se o cenário ideal para que se alastrassem práticas de banditismo puro. É possível que algumas dezenas de grupos armados estejam imbuídos unicamente do desejo de praticar pilhagens. Em seguida, o colapso dos serviços públicos do Iraque – que na verdade desde a Guerra do Golfo jamais voltaram a funcionar a contento – inspira grande descontentamento entre a população, o que serve de combustível para sobressaltos, ações espontâneas e não-organizadas contra os ocupantes. Em última análise, muita gente no Iraque entende que os causadores de suas agruras atuais mais graves são as autoridades e as tropas de ocupação, e não o regime deposto.
Ainda segundo os britânicos, o tipo de conduta a ser seguida no Iraque só pode ser a da atividade de contra-insurgência. Antes de mais nada, só mesmo um meticuloso trabalho de inteligência obraria a tarefa preliminar de mapear a identidade e a estrutura dos grupos da resistência iraquiana. Só que é muito difícil ser “inteligente” no Iraque. A relação entre as tropas de ocupação e a população tem se pautado mais pela animosidade do que pela estreita colaboração. Para muitos dos soldados da Coalizão, viver no Iraque é tão martirizante quanto passar uma temporada em outro planeta. O estranhamento cultural é notável. Segundo o jornal britânico The Guardian, os líderes militares em Washington já teriam mobilizado um exército de antropólogos, sociólogos e especialistas em cultura árabe, Islã e sociedade iraquiana para montar algum tipo de estratégia que sirva de suporte para melhorar as relações entre soldados e população civil. Não se sabe quanto tempo levará para que os resultados desses estudos comecem a surtir algum efeito nas ruas de Bagdá.
Uma outra possibilidade é a de encontrar um “Gunga Din”. Explico: o escritor Rudyard Kipling, sempre preocupado em descrever como o homem branco se virava para carregar seu “fardo” de “libertar os povos nativos das trevas do arcaísmo e da ignorância”, criou um personagem, um amigável corneteiro indiano chamado Gunga Din. Tratava-se de um cipaio – soldado nativo treinado por europeus – que manifestava grande identificação em relação aos sahibs britânicos. O ponto alto de sua carreira foi quando, em campanha, ao perceber que um regimento escocês (com gaitas, saiotes e tudo o mais) estava para ser emboscado por indianos tribais ocultos nos penhascos, galgou um dos mais altos picos e, tocando estridentemente seu clarim, alertou os escoceses do perigo. Os tribais irritados, crivaram Gunga de tiros. Este tombou, com a corneta nos lábios, dando a vida pelo regimento. Os líderes da coalizão, agora, em pleno século XXI, podem perfeitamente estar à procura no Iraque de alguns punhados de Gunga Dins, iraquianos identificados com os projetos ocidentais para o país e com disposição de “dar a vida pelo regimento”. Literalmente aliás, pois os grupos de resistência demonstram claramente que um dos alvos preferidos de seus ataques são os prováveis Gungas, com ou sem cornetas.
Nesse sentido, a questão de fundo do cenário atual, é que o dispositivo militar colocado em ação e que obteve uma vitória tão fácil contra as forças do ex-presidente Saddam Hussein, é ineficaz para enfrentar todo o quadro de confusão descrito acima. A tecnologia de última geração poderá auxiliar muito pouco o trabalho de polícia exigido às forças de ocupação nesse momento. Mas não nos enganemos em pensar que tudo se resolveria caso centenas de milhares de policiais bem treinados pudessem ser transferidos para o país. Isso ocorre porque nem a alta tecnologia, nem mesmo a polícia são capazes de substituir a política.
Os Estados Unidos que derrotaram o Iraque no campo militar, dificilmente tem condições hoje de oferecer uma política viável (isto é, palatável para a ampla maioria das forças políticas iraquianas) de reordenamento do país. Os equilíbrios internos do Iraque, anteriormente só mantidos pelo governo de força de Bagdá foram embaralhados de tal forma que existe uma forte possibilidade do Iraque transformar-se num novo Líbano das décadas da Guerra Civil (anos 70 e 80 do último século). Não temos dúvida que os soldados americanos desfrutam hoje de condições muito mais amplas do que na época da Guerra do Vietnã para se manterem no Iraque por muito tempo. Os apressados devem lembrar-se que a retirada dos soldados americanos da Indochina só ocorreu após perto de 10 anos de intervenção. Nas condições atuais, contando com tropas profissionais e com o auxilio de alguns países aliados – tais como a Grã-Bretanha e a Polônia por exemplo – a ocupação do Iraque tem tudo para se prolongar.
Contudo, ficar muito tempo por lá não implica em qualquer certeza de se conseguir desemaranhar o Nó Górdio político da região. Encontrar interlocutores entre os povos do país, conseguir colaboração em seus projetos de state building, essas são tarefas mais difíceis do que enfrentar 5 divisões da Guarda Republicana de Sadam. Com quem se aliar, e quem são os atores que se sentem inclinados a colaborar com o projeto de Washington, portando liderança suficiente para não temer as retaliações dos grupos opositores e capazes de reunir adeptos para uma reconstrução do Iraque “conveniente”, esse é o eixo político que a ocupação tem grandes dificuldades de concretizar. Para agravar o quadro, as forças de resistência já deixaram bem claro por suas atitudes que estão dispostas a atacar centros de produção importantes e a infra-estrutura do país, pois avaliam que o caos é seu dileto aliado. Não renunciam sequer ao uso de alguma criatividade, como o mundo pode observar através do episódio dos ataques com “burricos lança mísseis” ocorridos no mês de novembro de 2003.
Não pensemos também que a ONU desfrutaria de imediato de um sucesso fulgurante caso por ventura substituísse os EUA nas tarefas de administração e ocupação. O atentado contra a sede das Nações Unidas em Bagdá é uma firme demonstração que no entender de poderosos grupos armados iraquianos, a ONU não passa também de mais um poder estrangeiro e que deve igualmente ser expulso do país. Deixando um pouco as culpas de Sadam de lado, no final, para muitos iraquianos, a ONU orquestrou um apertado boicote contra o país durante uma década inteira. Dificilmente isso poderia ser esquecido. Em outras palavras, o sucesso em efetivar a emergência de uma situação política estável no Iraque seria uma tarefa tão árdua para a ONU quanto vem sendo até agora para os Estados Unidos.
Desse modo, podemos estar mais uma vez diante da tática guerrilheira de, ao enfrentar um adversário formidavelmente mais poderoso, a única forma de continuar a lutar é “atracando-se no seu pescoço”. Uma vez dentro do Iraque, diluídos nas ruelas de Basrah, entre os becos de Bagdá, ou nas escuras estradas entre as colinas do Curdistão, as vantagens da precisão e da alta tecnologia estão anuladas, e o sangue do inimigo pode finalmente ser vertido, mesmo que aos poucos.
O trabalho de “gendarme” sem a necessária condução política não funciona. Os Estados Unidos, seus aliados ou mesmo a ONU podem passar décadas no Iraque e mesmo assim, falhar miseravelmente. Os analistas militares, os cientistas em seus bem montados gabinetes e a soldadesca profissional e bem disposta, elaboraram e colocaram em prática um modo de fazer a guerra em que qualquer adversário que se atrever a permanecer em campo será inevitavelmente destruído. Como de hábito nos assuntos humanos, a resposta ao desafio acaba sendo engendrada, de um modo ou de outro. A resposta dos grupos de resistência iraquianos anda nos ensinando que depois da guerra, só resta a política. Fazer e assegurar a paz de modo adequado pode ser muito mais difícil do que prevalecer no campo de batalha. Apelar para as armas antes de se matutar satisfatoriamente todos os ângulos postos na arena política, pode não só comprometer a vitória, como também nutrir as bases de uma situação muito pior do que a anterior.
[1] Fonte para as duas tabelas, ver: BOBBIT, Philip, Guerra e paz entre as nações. Rio de Janeiro, editora Campus, 2003, pp. 235.
Impasses no Paraíso parte II
A derrota no Vietnã
É de conhecimento geral que o longo conflito do Vietnã trouxe um vasto elenco de contrariedades para os Estados Unidos. Seus objetivos militares foram totalmente frustrados. Em 27 de janeiro de 1973, todas as partes envolvidas no conflito – os Estados Unidos, o Vietnã do Sul, o Vietnã do Norte e o Comando da Guerrilha Vietcong – assinaram em Paris um acordo de paz que implicava na retirada total da forças norte-americanas do Vietnã. O governo dos EUA apostava na política de “vietnamização” da defesa do Vietnã do Sul, isto é, contando ainda com suporte material norte-americano, a defesa da república sulista ficaria inteiramente a cargo dos soldados do governo daquele país. Porem, à luz dos interesses americanos, a política de vietnamização redundou em fracasso. Em pouco mais de dois anos,(abril de 1975), as ofensivas do Exército do Vietnã do Norte e a desagregação do dispositivo militar sulista culminaram com a queda de Saigon e a unificação do país sob a égide do governo comunista de Hanói.
Os danos provocados ao Vietnã devido a décadas de guerra, a bombardeios maciços e a perda de vidas em todas as faixas etárias são simplesmente incalculáveis. Coube então ao povo vietnamita, contando com muito pouca ajuda internacional, lamber suas feridas, incinerar seus mortos e catar seus próprios cacos. A frase que melhor sintetiza o drama do Vietnã foi emitida com habitual crueza por um major dos marines ao comentar a grande batalha travada pela posse da cidade de Ben Tree durante a Ofensiva do Tet (1968): It became necessary to destroy the town in order to save it. [1]
As avaliações sobre a derrota americana no Vietnã se acumularam com o passar dos anos. Livros, teses, filmes e até canções contaram e cantaram, cada qual à sua maneira, detalhadas versões na tentativa de deslindar por todos os ângulos episódio tão sofrido. Para muitos, a retirada das forças americanas do Vietnã não foi determinada por uma vitória militar dos comunistas. Por mais competentes, corajosos e abnegados que fossem, nem o talentoso general Vo Nguyen Giap (comandante do Exército do Vietnã do Norte), nem seus rapazes, soldados regulares e guerrilheiros, eram páreo para o poderio militar esmagador do Estados Unidos. Caso o governo norte-americano decidisse fazer uso de toda a sua panóplia de morte, certamente tornariam-se verdadeiras as palavras do general Curtis LeMay, ex-comandante do Comando Aéreo Estratégico dos Estados Unidos na década de 50. Procurado pelos jornalistas em seu retiro de aposentadoria, ao ser indagado sobre que faria com o Vietnã caso ainda estivesse no comando, o general respondeu sem sequer se despentear: “eu bombardearia o Vietnã do Norte de volta à Idade da Pedra”.
O fato é que não havia condições políticas para tanto, seja internamente, seja no panorama internacional. À medida em que a guerra se arrastava, ficava cada vez mais difícil convencer o público norte-americano que os comunistas vietnamitas do norte e o pavoroso VC (termo resumido que a inteligência usava para designar a guerrilha vietcong, logo apelidada também de Charlie, pois com algum sarcasmo, para o soldado de infantaria do front, VC significava na verdade Víctor Charlie), eram um perigo para manutenção do American way of life nos rincões do Kansas, ou uma ameaça ao direito das crianças saborearem seus sorvetes na Disneylândia.
Além disso, o sistema de recrutamento vigente e o modo pelo qual o pessoal era distribuído nos vários serviços das Forças Armadas, espelhavam de forma clara as desigualdades vigentes na sociedade norte-americana. Os ricos e os jovens da classe média, ou conseguiam furtar-se ao serviço militar graças à influência política, ou eram destinados às funções mais interessantes e nobres devido à sua melhor escolaridade (pilotar aeronaves, serviços de inteligência e planejamento por exemplo). Aos pobres, os “caipiras” dos estados do Sul ou os negros das pocilgas dos grandes centros urbanos, sobrava, ou os serviços mais cansativos e aviltantes ou o preenchimento das fileiras da “maldita infantaria”.
Diante do desconforto com essas contradições sociais, com as baixas crescentes e temendo a convocação para o serviço militar, os movimentos de protesto e os grupos pacifistas passaram a disputar o domínio das ruas com a polícia. No musical Hair, hipies coloridos dançavam a inutilidade daquela guerra. Os rapazes estavam morrendo por causa de nada. Let the sunshine! A turma mais dura e insensível a tais apelos, bem que tentou travar a luta pelos corações e mentes na mídia, escalando o velho John Wayne para justificar a guerra no filme “Boinas verdes”. O resultado foi que jamais saberemos se o número de jovens que protestavam nas portas dos cinemas era maior ou empatava com a quantidade de pessoas que pagaram o ingresso para assistir o filme.
Se internamente os tumultos antiguerra se avolumavam, as condições externas de sustentação do conflito também não eram nada boas. No campo militar, a URSS envidava esforços para sustentar militarmente Hanói. A China, sempre desconfiada de tudo e de todos fazia a sua parte, dentro de suas possibilidades, mas não com muito entusiasmo. O eixo Moscou-Hanói acendia na liderança chinesa um elenco de preocupações, pois a enorme fronteira entre China e URSS, constituída por vastidões desérticas e montanhas agrestes, tornava-se cada vez mais coalhada de tropas exibindo cenho franzido e muita disposição em pressionar os gatilhos[2]. Mesmo assim, a despeito dos muxoxos mútuos, os dois poderes reunidos agiam de modo a impor uma moderação forçada ao grau de intensidade dos golpes desferidos pelo muque norte-americano contra Hanói. Forneciam armas antiaéreas, sistemas de radar e mantimentos para o Vietnã do Norte. Seus próprios arsenais nucleares eram uma garantia de que a liderança dos EUA se manteria distante de qualquer “exagero radioativo” e seus serviços diplomáticos açulavam o quanto podiam a reprovação internacional à guerra[3].
Os bons e velhos aliados europeus ocidentais por seu turno, estavam longe de aceitar qualquer tipo de parceria com os EUA na aventura vietnamita. Nada de enviar tropas, nenhum apoio moral. O governo britânico (o aliado de sempre), exibia um ânimo modorrento em relação ao assunto Vietnã. Enquanto preparava o chá da tarde, escorava-se na adesão dos australianos e neo-zelandeses ao esforço americano. De acordo com Londres, já que a Austrália e a Nova Zelândia haviam resolvido participar diretamente do conflito (mesmo modestamente), os americanos contavam com todo o apoio britânico que seria possível arranjar no momento. Nas veneráveis ilhas nebulosas, os jovens dedicavam-se a deixar crescer os cabelos e tocar um rock cada vez mais elaborado, enquanto as tropas de Sua Majestade lidavam com um belo atoleiro de encrencas, ali mesmo, ao lado de casa, na Irlanda do Norte. Afinal, quem tem o IRA como vizinho, não precisa cruzar os mares para criar caso com os vietcongs.
Já entre os europeus continentais, os apelos norte-americanos também se deparavam com ouvidos moucos. Entre os franceses, por exemplo, espalhava-se um certo “cruel divertimento” ao perceberem que, mesmo com todo o seu poder, os americanos falhariam no Vietnã, exatamente como havia acontecido com as armas da França na década de 50. Restava saber quanto tempo levaria para que os americanos tivessem de suportar o seu próprio Dien Bien Phu[4].
A Guerra do Vietnã portanto, tornou-se um exemplo clássico de episódio que despertava uma formidável impopularidade internacional. Dessa maneira, as explicações acerca do insucesso dos EUA bem que poderiam se escorar unicamente nos contratempos provocados por tal impopularidade. Os adeptos da guerra, patriotas, militares durões e congêneres sempre poderiam atribuir a responsabilidade do fracasso aos derrotistas, liberais, hipies, aliados vacilantes e, naturalmente, aos comunistas que eram onipresentes e conspiravam o tempo todo. Como é de conhecimento geral, quando as coisas não caminham bem, a culpa é sempre do outro, especialmente quando ousa pensar diferente.
Avaliações e conseqüências
Mas uma posição cômoda como essa não seria compartilhada por todos aqueles que se dedicaram a tirar lições do conflito do Vietnã. Militares americanos profissionalmente lúcidos, muitos deles veteranos que experimentaram o calor dos combates, não caíram na cilada de atribuir exclusivamente aos civis o fracasso da campanha. Suas reflexões basearam-se na idéia de que a senda da derrota havia também sido pautada pelo planejamento equivocado, liderança militar deficiente e um uso da força de modo inadequado. A onda pacifista só ganhou volume e intensidade porque os militares, no campo de batalha, não conseguiram resolver o assunto rápido e de forma eficaz. A retirada dos Estados Unidos do conflito do Vietnã foi algo resolvido a partir do clamor das ruas, respondendo aos brados de civis enfurecidos, mas a derrota militar foi na verdade construída palmo a palmo no campo de batalha[1].
As melhores contribuições para a análise sobre os erros da liderança militar do Vietnã procederam das avaliações de oficiais da Força Aérea. Sua crítica pode ser sintetizada no seguinte ponto: o comando dos Estados Unidos no Vietnã deixou de lado as lições de Clausewitz. É interessante notar que foi a partir dessa linha de aproximação de cunho tradicional, que se preparou uma espantosa revolução na teoria da guerra aérea[2].
Durante a Segunda Guerra Mundial, a estrutura do poder aéreo dos Estados Unidos inspirou-se nas idéias do teórico italiano do início do século XX Giulio Douhet e do ás norte-americano William “Billy” Mitchell. Ambos acreditavam que o poder aéreo se expandiria a ponto de formar uma arma totalmente independente das demais. Douhet em particular, imaginava que as forças aéreas poderiam vencer as guerras sozinhas. Para tanto, era necessário que desenvolvessem um poder de ataque devastador, a ponto de se tornarem capazes de destruir com bombas todos os centros vitais do inimigo. O adversário, aterrorizado, com suas cidades em ruínas e suas fábricas transformadas em escombros fumegantes, acabaria ficando sem outra alternativa a não ser a rendição para evitar o total aniquilamento.
É ponto pacífico que, tanto os norte-americanos quanto os ingleses, testaram essa teoria durante a Segunda Guerra Mundial denominando-a “bombardeio estratégico”. A aplicação de tais idéias criou o cenário mais funesto das guerras do século XX. A distinção entre a população civil e militar desapareceu. Os tapetes de bombas cobriam cidades inteiras, matando indiscriminadamente combatentes e não-combatentes. Por fim, o corolário lógico da prática do bombardeio estratégico é o uso da arma nuclear. De acordo com o objetivo proposto, o de levar a mais violenta destruição possível contra a sociedade do inimigo e leva-lo a render-se logo, nada é mais eficiente do que a bomba nuclear.
Com o advento da Guerra Fria, a Força Aérea dos Estados Unidos preparou-se para um confronto desta natureza contra os soviéticos. O núcleo central da frota aérea era integrado por bombardeiros de médio e de longo alcance, aptos a carregar os artefatos nucleares até o coração do território soviético. As aeronaves representavam um dos vetores possíveis de lançamento de tais armas. Além delas, confiava-se no uso de mísseis (de médio e longo alcance - intercontinentais), navios de superfície e submarinos. A resposta dos soviéticos, isto é, seus sistemas de ataque e defesa, geralmente se estruturavam segundo padrões semelhantes. O mais irônico de tudo isso, é que o tipo de guerra que ambas as Forças Aéreas se prepararam com tanto afinco para travar jamais aconteceu (ainda bem aliás).
Os conflitos que as forças americanas se envolveram diretamente (em especial a Guerra da Coréia e do Vietnã), exigiram empenhos totalmente diferentes. Para prevalecer sobre seus inimigos, mais importante do que uma força aérea estratégica armada com artefatos nucleares, era a necessidade de uma força tática, capaz de apoiar as tropas de linha de frente, desempenhando o papel de uma “artilharia aérea”. Assim poderia abrir caminho para os avanços das tropas, e unidades em dificuldades pulverizando as concentrações de ataque dos adversários.
Ainda assim, ao menos no Vietnã, os americanos tentaram apressar a resolução do conflito por meio de bombardeios estratégicos contra Hanói e o porto de Haiphong (principal porto do país por onde chegavam os suprimentos para o Vietnã do Norte – além de bombardear os depósitos, os americanos minaram as águas da baía). No entanto, a linha do bombardeio estratégico mostrou-se ineficaz. No panorama militar, além dos vietnamitas cavarem muito bem – praticamente criaram uma outra “Hanói subterrânea” – estabeleceram uma rede de defesa antiaérea das mais densas do mundo. O céu, dividido em camadas de altitude, era protegido por mísseis terra-ar e canhões guiados a radar fornecidos principalmente pelos russos. O problema é que as fontes de suprimentos militares que apoiavam o esforço de guerra vietnamita estavam situadas na URSS e na China, áreas politicamente fora do alcance dos ataques aéreos dos EUA.
Na dimensão da opinião pública, o bombardeio estratégico contra o Vietnã do Norte foi um desastre de propaganda. Cada bomba largada contra Hanói tornava-se munição explosiva que nutria os discursos pacifistas. Logo os grupos de protesto exibiram as estatísticas fornecidas pelas próprias forças armadas americanas. A tonelagem de bombas jogadas contra o Vietnã era maior do que o total usado pelos EUA durante a Segunda Guerra Mundial. Nada poderia justificar o custo em vidas civis que aqueles bombardeios estavam causando. E foi de Hollywood que o movimento pacifista recebeu poderoso reforço. Ninguém esquece de beldades tais como Jane Fonda, desfilando sua invejável e curvilínea silhueta por cima dos escombros de uma Hanói fumegante, distribuindo biscoitos e afagos para criancinhas vietnamitas com vestes rotas e frontes assustadas.
As mudanças
Todos os elementos constantes acima figuraram nas avaliações retrospectivas dos problemas militares e de liderança de campanha dos EUA no Vietnã. A ênfase no bombardeio estratégico baseado no tapete de bombas teria de ser abandonada. Mais importante do que isso era aperfeiçoar a capacidade da força aérea em apoiar os avanços das forças em terra, abrindo caminho através da destruição dos pontos fortes adversários, ou correr em auxílio de unidades em dificuldades bombardeando os pontos de concentração das tropas atacantes e suas linhas de suprimentos. Em última análise, tratava-se de aperfeiçoar o papel tático da força aérea, exigindo uma colaboração mais estreita com as unidades de terra, aperfeiçoando seu papel de artilharia aérea.
Ao mesmo tempo, uma outra questão de relevo se impunha. Caberia à força aérea o esforço no sentido de atacar com poder devastador e liquidar o “centro de gravidade” das forças inimigas. O termo descreve o ponto exato onde o inimigo é mais vulnerável, o ponto em que o ataque terá a melhor chance de ser decisivo. [3] Quase sempre o centro de gravidade representa o lugar onde estão situados os principais sistemas de comando e controle do adversário. Eliminar o centro de gravidade significa deixar as forças do inimigo descoordenadas e às cegas. Tratava-se então de refinar o velho conceito de bombardeio estratégico.
A princípio este conjunto de preocupações traduz um retorno doutrinário ‘as reflexões clássicas de Clausewitz. Em sua obra “Da Guerra”, o oficial prussiano insistia em afirmar que o objetivo primordial das operações de guerra vinculava-se `a necessidade de desarmar o inimigo. O autor enfatizava ainda que o meio (cenário a ser buscado) da guerra era o combate, também chamado de “recontro”. Toda a atividade visa à destruição do inimigo, ou melhor, da sua capacidade de combater, porque é nisso que se resume o próprio conceito de recontro. Daí que a destruição das forças armadas do inimigo seja sempre o meio para atingir a finalidade do recontro. [4]
A aplicação adequada das idéias de Clausewitz, isto é, a concentração de esforços na tarefa de destruir as forças militares adversárias, apelava também para uma outra reflexão emitida pelo prussiano: este afirmava que, para defrontar a violência, a violência mune-se com as invenções das artes e das ciências[5]. Em outras palavras, para cumprir o papel doutrinário que se propunha, os militares americanos enxergaram que acima de tudo deveriam apostar no desenvolvimento de uma sofisticada tecnologia de precisão. As ferramentas e mentes para tanto existiam em profusão. Nos campi das universidades, pululavam cientistas prontos para o trabalho. Quanto ao dinheiro para o financiamento das pesquisas, todos sabemos que este é um fator que a sociedade norte-americana possui em boa profusão. Ainda durante o conflito do Vietnã, foram utilizados artefatos de precisão, tais como bombas guiadas até alvo com a ajuda de sistemas de tv instalados nas aeronaves e os primeiros sistemas utilizando orientação com raio laser. A primeira geração de armas deste tipo dos EUA galgava seu início nos céus vietnamitas.
Os passos seguintes foram dados ao longo da década de 80 e enveredaram por uma mudança de ênfase na pesquisa. Até então, boa parte da “massa cinzenta” preocupara-se em aperfeiçoar as plataformas de lançamento, isto é, os aviões. Nesse campo, modelos e mais modelos, dotados de aperfeiçoamentos cada vez mais apurados se sucediam. Geralmente, a ação da bomba que conduziam até o alvo e lançavam ficava por ser resolvida pelas leis da física. Os sistemas ópticos de pontaria localizavam o alvo, a bomba era lançada e a gravidade cuidava do resto. A idéia agora era a de buscar o aperfeiçoamento de sistemas de orientação para as próprias bombas, desenvolvendo da forma mais eficaz e sofisticada possível as precision guided munitions (PGM). Em última análise, os dispositivos eletrônicos de alta tecnologia permitiriam que a vontade humana interferisse na trajetória do artefato conduzindo-o precisamente até o alvo.
Dotada de uma precisão cada vez maior, a arma aérea poderia economizar munição. Os bombardeios de saturação, em que áreas inteiras tinham de ser devastadas devido `as precariedades dos sistemas ópticos, tinha chances de ser abandonado de vez. O custo em vidas civis para a obtenção das vitórias e o ônus político provocado pelos protestos dos movimentos pacifistas devido às inegavelmente criminosas chacinas que o bombardeio pesado efetuava seriam minimizados. Durante a Guerra do Golfo de 1991, e o último conflito no Iraque, muitos jornalistas ironizavam ou colocavam em dúvida a veracidade do termo “Bombardeio Cirúrgico” propalado pelas autoridades do Pentágono. Porém, embora ironia seja muitas vezes imaginosa e divertida e os militares (assim como quaisquer outros profissionais) tentem vez por outra dourar as tintas de seus méritos, é necessário dizer que o grau de precisão do armamento moderno é verdadeiramente extraordinário.
A maior precisão do armamento e os sofisticados sistemas de comunicação, detecção e interferência contra o comando e controle do inimigo, implicaram também numa possibilidade de redução das forças terrestres dos Estados Unidos, notadamente o Exército e as unidades anfíbias dos Marines. O fato, é que uma vez contando com o suporte de uma força aérea de apoio aproximado e dispondo de precisão suficiente para pulverizar os pontos de concentração do adversário, as unidades de terra podem se tornar menos numerosas e com isso, adquirirem maior mobilidade e flexibilidade. A redução de efetivos permitiu ainda uma remodelação do modo de recrutamento do pessoal para as formações regulares de primeira linha dos EUA. Enquanto que na época do conflito do Vietnã, o modo de obtenção de quadros militares subalternos ainda dependia basicamente do alistamento militar obrigatório, a nova realidade indicava uma transição para forças armadas dependentes fundamentalmente de voluntários cujo treinamento teria por objetivo alcançar elevados padrões de profissionalização. O serviço das armas nas unidades regulares deixava de ser predominantemente uma tarefa a ser exercida por “soldados cidadãos” alistados. Os soldados das fileiras passaram a ser profissionais, e o Exército transformava-se em mais um empregador.
Esse novo desenho poderia atenuar um pouco os protestos e as preocupações presentes na sociedade civil durante os episódios de emprego de tropas norte-americanas no exterior. Afinal de contas, não eram mais pobres conscritos alistados que estavam arriscando a vida, e sim profissionais militares que haviam escolhido a vida das armas. A massa de conscritos passaria a ser inteiramente absorvida pela Guarda Nacional, formando assim a segunda linha (as reservas) da nação[6].
Não podemos deixar de ressaltar que essa redução de efetivos foi proporcionada também pelo fim da Guerra Fria. A inexistência de um conflito, mesmo que de âmbito convencional contra os soviéticos na Europa, abriu caminho para a remodelação que estamos discutindo.
[1] FRIEDMAN, George e Meredith. The future of war. New York, Crown Publishers, 1996.
[2] WARDENT, John A The Air campaign: planing for combat Washington D.C, National Defense University Press, 1988.
[3] FRIEDMAN, op.cit. pp.257.
[4] CLAUSEWITZ, Karl. Da Guerra. São Paulo, Martins Fontes, 1983. PP. 98
[5] idem, pp. 73.
[6] A política de emprego das forças militares é a seguinte. Na eventualidade de guerra ou intervenção armada no exterior, a responsabilidade de atuar pertence às unidades regulares profissionais. A Guarda Nacional pode ser convocada para substituir no trabalho guarnição as forças transferidas para o estrangeiro. Apenas na eventualidade das tropas regulares serem insuficientes para lidar com o conflito é que se cogita o uso da Guarda Nacional fora país.
[1] BARNES, Jeremy. The pictorial history of the Vietnam War. New York, Gallery Books, 1988, pp.136.
[2] JIAN, Chen. “China and the Vietnam wars”. In: LOWE, Peter (ed.) The Vietnam War. London, MacMillan Press LTD, 1998.
[3] GAIDUK, Ilya V. “Developing an alliance”. In: LOWE, Peter (ed.) The Vietnam War. London, MacMillan Press LTD, 1998.
[4] A batalha de Dien Bien Phu, em 1954, marcou a derrota definitiva do colonialismo francês no Vietnã. Naquele ano, milhares de soldados franceses cercados pelo Vietmih (o exército guerrilheiro do Vietnã) foram obrigados a se render ao general Vo Nguyen Giap, o mesmo personagem contra quem os americanos “quebraram seus dentes” anos mais tarde.